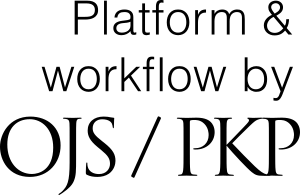Vivências de familiares de crianças e adolescentes com fibrose cística
DOI:
https://doi.org/10.7322/jhgd.19960Palavras-chave:
fibrose cística, família, criança, adolescente, cuidadoResumo
OBJETIVO: conhecer e descrever as vivências de familiares de crianças e adolescentes com fibrose cística. MÉTODO: estudo qualitativo que apresenta as vivências das famílias ao cuidar da criança e do adolescente com diagnóstico de fibrose cística. Foi realizado no Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira, em Pernambuco, no período de janeiro a maio de 2006, sendo a coleta de dados feita através de questionário para caracterização do cuidador, entrevistas gravadas e aplicação do teste de associação livre de palavras. Foram entrevistados 13 familiares. As falas foram transcritas na íntegra e submetidas à análise de conteúdo, modalidade temática. RESULTADOS: dos dados emergiram quatro temas: o diagnóstico e o impacto da doença, alteração do cotidiano familiar, perseverança e esperança na divulgação da doença e cura apoiada pela crença e fé. As palavras obtidas no teste de associação estiveram de acordo com as vivências obtidas na análise dos temas (cura, esperança, tristeza, cansaço, medo...), Desta maneira, os familiares necessitam ser mais ouvidos e valorizados, facilitando assim o diagnóstico e evitando peregrinações aos serviços de saúde. São marcantes as alterações do cotidiano dessas famílias, bem como os casos de desestruturação dentro da família e no convívio social. A esperança de cura baseada em uma força maior ficou evidente em todo o estudo, assim como na ciência e divulgação da doença. A participação da família no cuidado desses pacientes é de fundamental importância, sendo necessária a sensibilização dos profissionais de saúde, o que poderá favorecer o diagnóstico e o tratamento interferindo positivamente no enfrentamento da doença por essas famílias.Downloads
Referências
Bell SC, Robinson PJ. Cystic Fibrosis Standards of Care, Australia. Sidney: Ryde; 2008. 76p.
Ribeiro J D, Ribeiro MAGO, Ribeiro A F. Controvérsias na fibrose cística: do pediatra ao especialista. J. Pediatr. (Rio J)2002; 78(Supl.2): S171-86.
Reis FJC, Oliveira MCL, Penna FJ, Oliveira MGR, Oliveira EA, Monteiro APAF. Quadro clínico e nutricional de pacientes com fibrose cística: 20 anos de seguimento no HC-UFMG. Rev Ass Med Bras 2000;46(4):325-30.
Cabral VBC. Grupo de apoio para os pais de neonatos de risco: abordagem transdisciplinar com a família na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Dissertação). Recife: Universidade Federal de Pernambuco, CCS, 2005.
Resta GR, Budó MLD. A cultura e as formas de cuidar em família na visão de pacientes e cuidadores domiciliares. Acta Scient Health Sci 2004; 26(1): 53-60.
Waldow VR. Cuidado humano: o regate necessário. 3ª ed. Porto Alegre: Sagraluzzatto; 2001.
Franck LS, Callery P. Rethinking family centred care across the continuum of children’s healthcare. Child: Care Health Devel 2004; 30(3); 265-77.
Vasconcelos MGL de, Leite AM, Scochi CGS. Significados atribuídos à vivência materna como acompanhante do recém-nascido pré termo e de baixo peso. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. 2006; 6(1): 47-57.
Pedroso GER. O significado de cuidar da família na UTI neonatal. Crenças da equipe de enfermagem (Dissertação). São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2001.
Cecagno S, Souza MD, Jardim VMR. Compreendendo o contexto familiar no processo saúde-doença. Acta Scient Health Sci 2004; 26(1); 107-12.
Ângelo M. Com a família em tempos difíceis, uma perspectiva de enfermagem. São Paulo (Tese – Livre Docência). São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 1997.
Buarque V, Lima MC, Scott RP, Vasconcelos MGL. O significado do grupo de apoio para a família de recém-nascidos de risco e equipe de profissionais na unidade neonatal. J Ped 2006;82:295-301.
Minayo MCS.O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª ed. São Paulo: Hucitec – Abrasco; 2004.
Nóbrega SM, Coutinho MPL. O teste de associação livre de palavras In: Coutinho MPL, Lima AS, Oliveira FB, Fortunato ML. Representações sociais. Uma abordagem interdisciplinar. João Pessoa: UFPB, Editora Universitária; 2003 p. 67-77.
Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1979.
Oliveira VZ, Oliveira MZ, Gomes WB, Gasperin C. Comunicação do diagnóstico: implicações no tratamento de adolescentes doentes crônicos. Psic Est. 2004; 9(1): 9-17.
Goulart LMH, Somarriba MG, Xavier CC. A perspectiva das mães sobre o óbito infantil: uma investigação além dos números. Cad Saúde Publ. 2005; 21(3):715-23.
Torres WC. O conceito de morte emcrianças portadoras de doenças crônicas. Psic Teor Pesq 2002; 18(2); 221-9.
Pinto JP, Ribeiro CA, Silva CV. Procurando manter o equilíbrio para atender suas demandas e cuidar da criança hospitalizada: a experiência da família. Rev Latino-Am Enferm 2005; 13(6):974-81.
Furtado MCC, Lima RAG. O cotidiano da família com filhos portadores de fibrose cística: subsídios para a enfermagem pediátrica. Rev Latinoamer Enferm 2003;11(1):66-73.
Zanetti ML, Mendes IAC, Ribeiro KP. O desafio para o controle domiciliar em crianças e adolescentes diabéticas tipo I. Rev Latino-Am Enferm. 2001;9(4):32-6.
Bomfim AC, Bastos AC, Carvalho AMA. A família em situações disruptivas provocadas por hospitalização. Rev. Bras. Crescimento Desenvolv Humano 2007;17(1): 84-94.
Pizzignacco TMP, Lima RAG. O processo de socialização de crianças e adolescentes com fibrose cística: subsídios para o cuidado de enfermagem. Rev Latino-Am Enferm 2006; 14(4):569-77.
Anders JC, Lima RAG. Crescer com o transplantado de medula óssea: repercussões na qualidade de vida de crianças e adolescentes. Rev Latino-Am Enferm 2004; 12(6):866-74.
Oliveira RG, Simionato MAW, Negrelli MED, Marcon SS. A experiência das famílias no convívio com a criança surda. Acta Scient Health Sci 2004; 26(1): 183-91.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
CODE OF CONDUCT FOR JOURNAL PUBLISHERS
Publishers who are Committee on Publication Ethics members and who support COPE membership for journal editors should:
- Follow this code, and encourage the editors they work with to follow the COPE Code of Conduct for Journal Edi- tors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf)
- Ensure the editors and journals they work with are aware of what their membership of COPE provides and en- tails
- Provide reasonable practical support to editors so that they can follow the COPE Code of Conduct for Journal Editors (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf_)
Publishers should:
- Define the relationship between publisher, editor and other parties in a contract
- Respect privacy (for example, for research participants, for authors, for peer reviewers)
- Protect intellectual property and copyright
- Foster editorial independence
Publishers should work with journal editors to:
- Set journal policies appropriately and aim to meet those policies, particularly with respect to:
– Editorial independence
– Research ethics, including confidentiality, consent, and the special requirements for human and animal research
– Authorship
– Transparency and integrity (for example, conflicts of interest, research funding, reporting standards
– Peer review and the role of the editorial team beyond that of the journal editor
– Appeals and complaints
- Communicate journal policies (for example, to authors, readers, peer reviewers)
- Review journal policies periodically, particularly with respect to new recommendations from the COPE
- Code of Conduct for Editors and the COPE Best Practice Guidelines
- Maintain the integrity of the academic record
- Assist the parties (for example, institutions, grant funders, governing bodies) responsible for the investigation of suspected research and publication misconduct and, where possible, facilitate in the resolution of these cases
- Publish corrections, clarifications, and retractions
- Publish content on a timely basis